Quando nasci, as pestanas escureciam-me as pálpebras e quase roçavam as sobrancelhas em cada piscar de olhos. Nas poucas horas de mundo que colecionava, o meu cabelo escuro já me roçava os ombros. Era comprido e liso.
Nas horas de mundo que agora compilo, não me recordo de nunca ver um bebé tão cabeludo quanto eu. Admira-me como não me batizaram de Rapunzel ou Mogli.
Ao crescer, e vindos não sei bem de onde, o meu cabelo ganhou cachos. Canudos de caracóis, tão perfeitos que pareciam moldados com o ferro de encaracolar. Os meus pais felizes com tamanha peruca deixaram que os canudos se alongassem. Eram elogiados em cada dobra de esquina. No entanto, quando já me doía o pescoço de tanto peso, a minha mãe (cabeleireira de profissão) “aparou-me” ou “cortou-me só as pontas” e os caracóis orgulhos desapareceram para todo o sempre.
Depois disso, o descalabro total.
Depois disso, um cabelo sem forma. Que não é liso ou encaracolado. Que é um mar de ondas picadas e riças.
É na tentativa desesperada e esperançosa que os caracóis voltassem, que apareço em fotografias de cabelo pelo queixo e de franja, pelo ombro e de franja, comprido e de franja, ornamentado com bandoletes de pano e laços. Honestamente, pouco ou nada me incomodava. Tinha nove anos, não me apercebia que, acima do meu pescoço estava uma bola, mal disposta e teimosa de cabelo. E por isso, não me sentia responsável por ele. A minha mãe, porventura era. Era a minha mãe que travava uma guerra com o meu cabelo, quem lutava com as escovas e secadores para que saísse de casa asseadamente. Quem o manipulava ginasticamente com ganchinhos, molinhas, trancinhas, toutiços e fitinhas coloridas.
Assim foram garreando, até que um deles desistiu. E não foi o meu cabelo.
Aos dez anos, no quinto-ano, fui convidada para participar no sarau do Colégio de Calvão como mulher das cavernas. Eu fui, toda contente e honrada, a vestir um saco de serapilheira e com o cabelo, do couro cabeludo às pontas, ripado. E que bem desempenhei o papel.
Aos onze anos, apanhei piolhos. Porque usei as escovas de cabelo das minhas colegas de turma, tal era o desespero em domar a minha penugem capilar revoltada. Achava eu que havia uma escova capaz de o educar, mas que ainda não a tinha encontrado. Infestada de piolhos entrei em casa, emprestei alguns às minhas irmãs e provoquei um ataque de nervos à minha mãe. Cabeleireira de profissão e com três filhas piolhosas em casa.
Aos doze anos, uma vespa infiltrou-se na densa cabeleira e picou-me o crânio. Duas horas depois, com a cabeça bêbada em vinagre e cravada em moedas, encontrou-se o animal e a picada. Seguiram-se mais duas horas de shampoo e condicionadores.
E assim continuei.
Sempre a parecer uma conguita indomável de cabelo denso e olhos gigantes. A parecer diferente das minhas amigas de liceu e a querer muito ser como elas.
A querer parecer normal, tentava alisar o cabelo mas queimava-o e prendia-o na ventoinha do secador. Sempre que tentava a proeza, havia alguém que me perguntava se tinha enfiado os dedos na tomada, e por isso tivesse ficado assim.
Na verdade, o meu cabelo tinha o seu carácter e temperamento. Gostava do vento, de ser seco ao natural, do volume, do sol e da água salgada. Odiava ganchinhos, e tudo acabado em “inhos”, secadores, placas alisadoras, tintas claras e escovas.
E andámos assim, descontentes no mesmo corpo, a querer definir personalidades ao mesmo tempo, e a discordar em todas as decisões alheias. E quando não mais sabia que lhe fazer, recorri à arma nuclear e entrei de rompante no salão da minha mãe. Inscrevi o meu cabelo no circo.
Fiz-lhe tudo o que me apeteceu, durante dez anos.
Pintei-o de roxo, preto e cor-de-rosa (nas pontas e franja). Porque era de um bom gosto desmedido…
Coloquei extensões azuis e com brilhantes. Fiz permanentes com bigoudis e ondulações largas. Descolorei, fiz madeixas, californianas e ombrés. Cortei curto e enchi a cabeça de extensões compridas, para parecer uma sereia.
O cabelo foi perdendo força.
Esticava o cabelo todas as semanas, porque não queria ser mulher leoa.
O cabelo foi perdendo movimento e personalidade.
E eu também, sem saber.
Um dia, quando mudei de continente e de vida, decidi mudar radicalmente o visual e procurei um cabeleireiro que me transmitisse confiança. Deixei de ser morena para ser loira. Deixei de ser eu.
Como se fosse uma nova pessoa, como se tivesse uma nova identidade. Porém, com o mesmo nome.
Fiquei loira de cabelo liso.
No espelho, o reflexo de uma mulher que queria ser como todas as outras. No espelho, um reflexo infeliz.
Lembro de estar de visita a Portugal, e de surpreender a minha melhor amiga que não me reconheceu. Que me olhou e desviou o olhar, inocentemente, como se nunca antes me tivesse visto ou falado. Olhou-me como se fosse uma estranha.
E eu, de facto, era.
Na mesma hora, voltei aos cabelos escuros. O cabelo estava frágil, as pontas desfaziam-se como papel. A minha mãe, que sempre o soube cuidar como ninguém, pegou na tesoura e cortou-me o longo cabelo pelo ombro.
E foi nesse dia que a guerra, de dezasseis anos, terminou.
O meu cabelo e eu estamos hoje em paz.
Talvez porque também eu estou em paz comigo, com o que vejo no espelho e com o corpo que me alberga.
Aprendi que o meu cabelo é uma extensão da minha personalidade, humores e estados de espírito. Somos uma equipa, com alguns desentendimentos e pontas espigadas, mas somos um.
Talvez devesse sentir arrependimento, culpa por o ter tornado palhaço quando me tentava afirmar e descobrir como adolescente. No entanto, foi fundamental para que se hasteassem as bandeiras brancas.
E aqui entre nós, são tão boas as memórias fotográficas que ficaram.
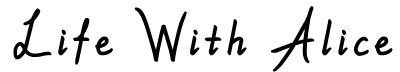




Comments are closed.